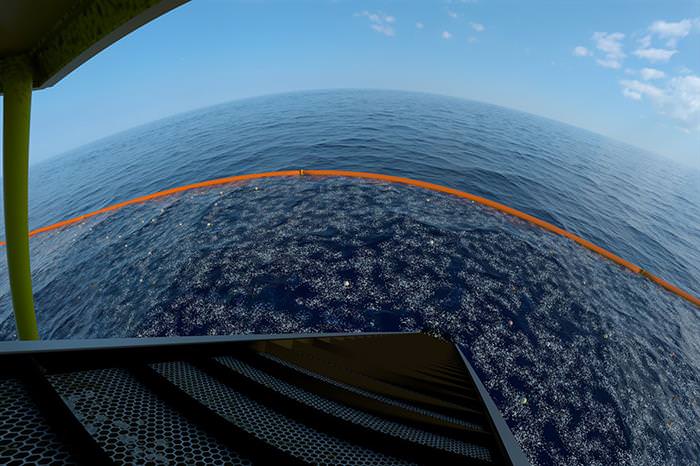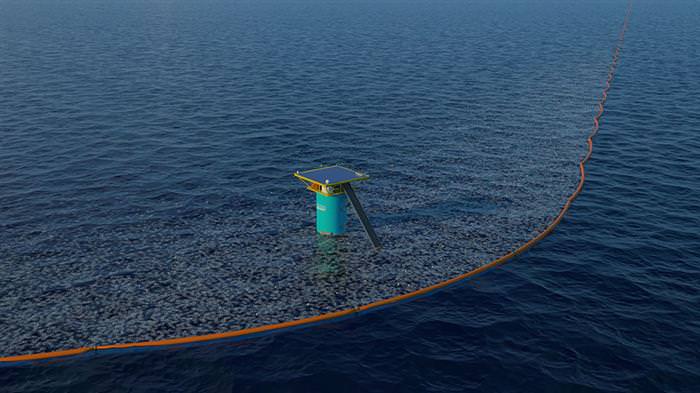Introdução
Alguns teóricos
culturais argumentam que a tendência em direção a uma maior interdependência
global está levando ao colapso de todas as identidades culturais fortes e está
produzindo aquela fragmentação de códigos culturais, aquela multiplicidade de
estilos, aquela ênfase no efêmero, no flutuante, no impermanente, na diferença
e no pluralismo cultural.
Em certa medida,
o que está sendo discutido é a tensão entre o "global" e o
"local" na transformação das identidades. As identidades nacionais
representam vínculos a lugares, eventos, símbolos, histórias particulares. Elas
representam o que algumas vezes é chamado de uma forma particularista de
vínculo ou pertencimento. Sempre houve uma tensão entre essas identificações e
identificações mais universalistas — por exemplo, uma identificação maior com a
"humanidade" do que com a "portugalidade”, a “moçambicanidade”
ou a “brasilidade”. Esta tensão continuou a existir ao longo da modernidade: o
crescimento dos estados-nação, das economias nacionais e das culturas nacionais
continua a dar um foco para a primeira; a expansão do mercado mundial e da
modernidade como um sistema global davam o foco para a segunda.
Num mundo de
fronteiras dissolvidas e de continuidades rompidas, as velhas certezas e
hierarquias da identidade têm sido postas em questão.
A categoria da
identidade não é, ela própria, problemática? É possível, de algum modo, em
tempos globais, ter-se um sentimento de identidade coerente e integral? A
continuidade e a historicidade da identidade são questionadas pela imediatez,
pela intensidade das confrontações culturais globais.
Importa lembrar
que o século XXI abre com uma confissão, a da extrema fragilidade de todos. E
de Tudo.
Poder permanecer e poder mover-se livremente não serão condições sine qua non da partilha do mundo ou, ainda, do
que Édouard Glissant chamou ‘relação global’? O que poderá identificar os seres
humanos, em termos de reconhecimento, para além do acidente do nascimento, da
nacionalidade e da cidadania? (Mbembe 2017, p. 248).
É neste quadro
que me senti desafiado a pensar as questões identitárias a partir de minhas
vivências/influências culturais, tomando como referências três culturas que, em
maior ou menor grau, fizeram de mim o que sou.
Embora tenha
visitado, por períodos bastante curtos, outros países na África, Europa e
América Latina, essas fugazes permanências não possibilitaram que, de algum
modo, tivesse sido marcado por traços culturais desses lugares. Assim, são as
vivências ou permanências relativamente longas que permitem a aquisição de
marcas culturais mais significativas.
Nesse sentido,
defino-me como um “tríbrido” cultural, um neologismo sintático que ironicamente
criei e que busca refletir, entre muitas influências que recebi na minha
trajetória de vida, três que considero mais marcantes:
·
a portuguesa, pois meus pais eram
portugueses e eu estudei durante duas décadas (1954-1974) no sistema
educacional no Moçambique colonial com professores portugueses e com o mesmo
currículo de Portugal;
·
a moçambicana, pois uma parcela
significativa da minha vida decorreu em Moçambique (1946-1988) no qual recebi
as influências da cultura africana (hábitos de convivência, hábitos
alimentares, música, dança, alegria mesmo na adversidade...);
·
a brasileira, pois cheguei ao Brasil
para frequentar o ensino superior em 1988, portanto, há 32 anos, e acabei
incorporando novos conhecimentos, vocábulos, outras pronúncias da língua
portuguesa, outros hábitos alimentares, uma intensificação da cordialidade...
Outro “tríbrido”
cultural que partilhou, salvaguardadas as devidas diferenças de trajetória e
tempo histórico, foi o poeta brasileiro Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810),
português nascido na cidade do Porto, em Portugal e que veio para ao Brasil aos
sete anos de idade. Foi um dos mais importantes revoltosos que participou da
Inconfidência Mineira, acabando por ser deportado para Moçambique onde viria a
morrer. Em terras moçambicanas, sua amargura por estar longe da pátria, ainda
deixou espaço na sua poesia para traços esperançosos, com forte carga utópica e
profundamente elogiosa à forma tão solidária como foi recebido pelos
moçambicanos.
Algumas pessoas
argumentam que o "hibridismo" e o sincretismo — a fusão entre
diferentes tradições culturais — são uma poderosa fonte criativa, produzindo
novas formas de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia que às velhas e
contestadas identidades do passado. Outras, entretanto, argumentam que o
hibridismo, com a indeterminação, a "dupla consciência" e o
relativismo que implica, também tem seus custos e perigos. O romance de Salman
Rushdie sobre a migração, o Islã e o profeta Maomé, “Versos satânicos”, com sua
profunda imersão na cultura islâmica e sua secular consciência de um
"homem traduzido" e exilado, ofendeu de tal forma os fundamentalistas
iranianos que eles decretaram-lhe a sentença de morte, acusando-o de blasfêmia.
Por conta dessas
várias influências que recebi, enfrento situações curiosas nos meus
deslocamentos geográficos que têm por cenário Moçambique, Brasil e Portugal e
que acabaram dando forma à minha identidade cultural. Quando me desloco a
Moçambique, alguns dos meus amigos dizem que, pela forma como falo, já estou
muito abrasileirado, ou seja, já não sou um “verdadeiro” moçambicano! Quando
visito Portugal, as pessoas me dizem ”você não é daqui, deve ser de algum
país ex-colônia de Portugal em África ou, talvez, do Brasil”. Portanto, já
não sou um português. No Brasil, pela forma como falo a língua portuguesa, de
imediato me dizem que eu não sou brasileiro. Em resumo, não sou de lugar nenhum
ou... sou de todos os lugares o que, devo reconhecer, me coloca numa posição em
que posso exercitar com mais coerência mecanismos de solidariedade e de
desprendimento.
O que de fato
significa ter nascido em algum lugar? Como esse acidente assinalará de maneira
tão irrevogável quem sou, como sou conhecido e por quem me tomam? Não pertencer
propriamente a nenhum lugar é próprio do ser humano, uma vez que, por sua
condição de ser composto por outros seres vivos e outras espécies, pertence a
todos os lugares em conjunto. Portanto, aprender a passar constantemente de um
lugar para outro deveria ser o projeto de qualquer ser humano, visto que esse
é, de todo modo, seu destino. Como refere Mbembe (2017, p. 248):
...passar de um lugar para outro é também tecer com cada um deles uma
dupla relação de solidariedade e de desprendimento. A essa experiência de
presença e de diferença, de solidariedade e de desprendimento, mas nunca de
indiferença, chamemos a ética do passante.
E acrescenta
(Idem, p. 245):
Atravessar o mundo, dar conta do grau do acidente que representa o nosso
lugar de nascimento e o seu peso de arbitrário e de constrangimento, agarrar o
irreversível fluxo que é o tempo da vida e da existência, aprender a assumir o
nosso estatuto de passagem, uma vez que é provavelmente, em última instância, a
condição da nossa humanidade, a base da qual criamos a cultura – são, talvez,
afinal, as questões mais difíceis do nosso tempo, que herdamos de Fanon na sua
farmácia, a farmácia do passante.
Estamos assim em
presença da figura de alguém que parte, que deixa seu país, que vive em lugares
onde cria casa e liga seu destino ao daqueles que o acolheram e reconheceram,
no seu rosto e sua singularidade, uma humanidade. Nesse processo, que implica
tradução, mas também conflito e mal-entendidos, algumas questões vão
dissolver-se por si, na busca do que nos é comum, de nossa condição comum.
Nunca procurei,
pelo menos de forma deliberada, inserir-me na realidade brasileira, ou seja,
pensar e agir como um brasileiro, mesmo com todas as diferenças culturais
existentes neste imenso país. Isso poderia sugerir uma via de mão única. Ao
contrário, pensava numa inserção em termos de troca igualitária: o único meio
de retribuir a hospitalidade que meus anfitriões brasileiros me facultavam era
procurar, ainda que inconscientemente, oferecer a eles algo que não possuíam e
que dificilmente poderiam adquirir a não ser num encontro face a face com um
pensamento e um modo de agir alternativos; algo novo e diferente que pudesse, eventualmente,
enriquecê-los do mesmo modo que me tenho enriquecido no encontro com as
vivências dos brasileiros. Na verdade, desejava ser aceito — mas aceito
precisamente pelo que eu era, por minha dessemelhança.
Posso pensar em
muitos países onde viver com tal atitude teria sido muito mais difícil, social
e espiritualmente mais complexo. Se alguém tiver de ser um exilado ou um
estrangeiro, o Brasil me parece ser o lugar mais adequado para se estar.
Pode-se esperar boa vontade, respeito mútuo e bastante hospitalidade — com a
condição de que não se queira fingir que se é brasileiro... Além disso, quem
aqui chega não é colocado numa classe, mas numa categoria separada, de
“estrangeiro”, na qual a liberdade de pensamento e de ação tem amplo espaço; os
estrangeiros escapam da atribuição de classe, de certo modo inflexível e rija,
que interfere na vida dos outros...
É óbvio que o
fator linguístico exerceu em mim, e exerce até hoje, uma forte aproximação
cultural. Tendo como língua materna a língua portuguesa, vindo de Moçambique
cuja língua oficial é a portuguesa, foi bastante fácil a minha inserção em
território brasileiro.
Portugal,
Moçambique, Brasil, países que falam a língua portuguesa, comunidades nascidas
da viagem, da transposição de fronteiras e da mestiçagem - que são elementos
estruturantes das culturas portuguesa, moçambicana e brasileira – estas três
“comunidades” culturais não são apenas o outro lado do mar, mas o outro lado da
nossa alma. O nosso modo próprio e único de sermos europeus, africanos e latino-americanos.
Em seu poema “Língua-Mar” (1997), o brasileiro Adriano Espínola nos fala
dessa língua oceânica, na qual a língua portuguesa se transformou ao longo de
uma prolongada viagem:
A Língua
em que navego, marinheiro,
na proa
das vogais e consoantes,
é a que
me chega em ondas incessantes
na praia
deste poema aventureiro.
É a
Língua Portuguesa - a que primeiro
transpôs
o abismo e as dores velejantes,
no
mistério das águas mais distantes,
e que a
gora me banha por inteiro.
Língua de
sol, espuma e maresia,
que a nau
dos sonhadores-navegantes
atravessa
caminho dos Instantes,
cruzando
o Bojador de cada dia.
Ó
Língua-Mar, viajando em todos nós!
No teu
sal, singra errante a minha voz.
Pátria-língua,
língua-pátria, nos lábios dos poetas é uma só realidade, ao mesmo tempo caminho
e luz. A partir das peculiares diversidades gramaticais com que seres humanos
de diferentes azimutes ideológicos e culturais exprimem suas ideias, não traem,
não poluem nem disformam as fecundas raízes seculares, configuradas nas trocas
e apropriações linguísticas.
Para além disso,
minha inserção contou com a “presença” de Moçambique e da África em geral na
consciência brasileira que se manifesta na religiosidade, nas cores, nas
gestualidades, na forma de falar a língua portuguesa, nas danças, nas comidas.
Muitos terreiros do candomblé (só no Maranhão são mais de 2000) são ilhas de
África no Brasil.
Em muitas
circunstâncias, posso me sentir "fora de lugar". Diria que esse
sentimento implica perdas e ganhos, mas é algo que me agrada. Não tenho certeza
se tal atitude foi fruto de uma escolha livre que gradualmente se tornou um
hábito, ou se foi, e ainda é, um meio de transformar uma necessidade em
virtude. Perdas devem ocorrer, como ser ocasionalmente objeto de desconfiança
ou, em casos absolutamente raros, de rejeição. Mas os ganhos superam
imensamente as perdas. No meu ponto de vista (e por experiência), estar
"fora de lugar", ao menos em parte do nosso ser, não concordar
completamente, manifestar divergência e dissensão, é o único meio de
resguardarmos nossa autonomia e liberdade. Estar "dentro", mas
parcialmente "fora", é também um meio de preservar o frescor, a
inocência e a surpreendente ingenuidade de visão. Quem está assim situado tende
a fazer perguntas que não ocorreriam àqueles estabelecidos mais solidamente;
tende a notar o estranho no familiar, o anormal no óbvio. Este longo
afastamento do meu país (embora com alguma irregularidade o visite) é, muito
frequentemente, uma situação de desconforto, mas também de expansão do
pensamento crítico, de independência, insight e criatividade.
No conjunto, minha grande sorte foi ter tido a possibilidade de viajar, estudar
e ser professor universitário no Brasil e conviver com tantos brasileiros de
várias regiões e classes sociais. Ao transpor uma fronteira novos desafios
emergem.
A problemática das fronteiras
A capacidade de
decidir quem pode se mover, quem pode se estabelecer onde e sob quais
condições, ocupa cada vez mais o centro de lutas políticas por soberania,
nacionalismo, cidadania, segurança e liberdade. O poder da fronteira está em
sua capacidade de regular as múltiplas distribuições das populações – humanas e
não humanas – sobre o corpo da terra, e, assim, afetar as forças vitais de
todos os tipos de seres.
É importante
levar em consideração que a questão de um mundo sem fronteiras é uma intenção
obviamente utópica. Às vezes, de forma irônica, afirmo para os meus alunos e
para os meus amigos que no espaço reservado à nacionalidade do meu passaporte
gostaria que tivesse a inscrição “cidadão do mundo”. Mas se quiser ser mais
radical, o ideal seria não ser necessária a existência, sequer, desse
documento.
Desde a sua
origem, o “movimento”, ou mais precisamente “a ausência de fronteiras”, tem
sido central para várias tradições utópicas. O próprio conceito de utopia
refere-se ao que não tem fronteiras, a começar pela imaginação em si. O poder
da utopia consiste em sua capacidade de representar a tensão entre a ausência
de fronteiras, o movimento e o lugar, uma tensão – se observarmos com cuidado –
que marcou as transformações sociais na era moderna. Essa tensão continua nas
discussões contemporâneas sobre processos sociais baseados no movimento,
especialmente a migração internacional, as fronteiras abertas, o
transnacionalismo e até o cosmopolitismo. Nesse contexto, a ideia de um mundo
sem fronteiras pode ser um recurso poderoso, embora problemático, para o
social, o político e até mesmo para a imaginação estética.
Antes de tudo,
importa referir que a África pré-colonial pode não ter sido um mundo sem
fronteiras, pelo menos não no sentido em que as temos definido; as fronteiras
existentes sempre foram porosas e permeáveis. A função de uma fronteira, na
realidade, é ser cruzada. É para isso que ela serve. Não há fronteira
concebível fora desse princípio, a lei da permeabilidade. Como atestam as
tradições de comércio de longa distância, a circulação era essencial. Era
fundamental na produção de formas culturais, arranjos políticos, configurações
econômicas, sociais e religiosas. O veículo mais importante para a
transformação e a mudança era a mobilidade. Não era a luta de classes, no
sentido em que a compreendemos. A mobilidade era o motor de qualquer tipo de
transformação social, econômica ou política. Aliás, era o princípio indutor por
trás da delimitação e da organização do espaço e dos territórios. Assim, o princípio
primordial da organização espacial era o movimento contínuo. E isso ainda é
parte da cultura hoje. Parar é correr riscos. É preciso estar em constante
movimento. Sobretudo em situações de crise, essa é a própria condição da
sobrevivência. Se você não se move, as oportunidades de sobreviver diminuem.
Logo, o domínio sobre a soberania não era expresso exclusivamente por meio do
controle de território, marcado fisicamente com fronteiras. Como era, então? Se
não se controla um território, como se pode exercer a soberania? Como se pode
extrair qualquer coisa, uma vez que, pelo que sabemos, o poder se expressa
também, se não essencialmente, por meio de alguma forma de extração?
Tudo isso era
representado pelas redes. Redes e encruzilhadas. As encruzilhadas, os fluxos de
pessoas e os fluxos da natureza, ambos em relações dialéticas, porque nessas
cosmogonias as pessoas são impensáveis sem o que chamamos de natureza.
A corrida para a
África no século 19 e a demarcação de suas fronteiras de acordo com as linhas coloniais
transformou o continente africano em um enorme espaço carcerário no qual
fizeram de cada africano um imigrante ilegal em potencial, impedido de circular
salvo sob condições cada vez mais punitivas. Na realidade, o aprisionamento se
tornou a precondição para a exploração do trabalho dos africanos e, por isso,
as lutas pela emancipação racial e por melhorias das condições de vida dos
negros são tão entrelaçadas às lutas pelo direito de circular livremente. Se se
quiser concluir o trabalho de descolonização, é preciso derrubar as fronteiras
coloniais africanas e transformar a África num vasto espaço de circulação para
os africanos, para seus descendentes e para todos aqueles que quiserem ligar
seus destinos a este continente.
Assim, a África,
tal como a conhecemos hoje, não é difícil constatar que é uma construção
europeia. Os europeus a batizaram, a desenharam e criaram fraturas no coração
de conjuntos homogêneos, impondo a sua língua através de políticas de
assimilação. Línguas maternas que se falam em Moçambique são faladas também em
países com quem Moçambique faz fronteira, como é o caso da África do Sul,
Suazilândia, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi e Tanzânia. Se for fato que nem todas as
tradições desapareceram, não se pode negar que os povos africanos necessitam
atualmente de se recriar e reinventar. É um desafio que deve ser levado em
conta e aceite, mesmo que seja doloroso e que, de certa forma, signifique
habitar as identidades de fronteira construídas historicamente. O hibridismo é,
portanto, uma condição do estrangeiro, do africano que se desloca no mundo.
Dado que o mundo
colonial foi pensado como um mundo dividido em dois, que funcionava segundo uma
dialética de exclusão recíproca das identidades nele simetricamente colocadas,
o mundo pós-colonial define-se pelo desaparecimento dessa dialética. Ele não
está mais dividido em dois, mas mostra-se, antes, em termos de diferenças, de
misturas, de hibridismo e de ambivalência.
Em resumo,
qualquer verdadeira desconstrução para fechar e demarcar fronteiras entre “aqui
e acolá, o próximo e o distante, o interior e o exterior” deve fazer a crítica
a todas as formas de universalismo abstrato.
Uma herança inevitável: as culturas nacionais
Impossível
pensar em identidades culturais, ignorando que o lugar privilegiado de suas
constituições ocorre no interior das culturas dos Estados-Nação. Sabemos que as
culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas
também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso —
um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações
quanto a concepção que temos de nós mesmos. As culturas nacionais, ao
produzirem sentidos sobre "a nação", sentidos com os quais podemos
nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas
estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com
seu passado e imagens que dela são construídas. Como argumentou Benedict
Anderson (2008), a identidade nacional é uma "comunidade imaginada".
O discurso da cultura
nacional não é, assim, tão moderno como aparenta ser. Ele constrói identidades
que são colocadas, de modo ambíguo, entre o passado e o futuro. Ele se
equilibra entre a tentação por retornar a glórias passadas e o impulso por
avançar ainda mais em direção à modernidade. As culturas nacionais são
tentadas, algumas vezes, a se voltar para o passado, a recuar defensivamente
para aquele "tempo perdido", quando a nação era "grande";
são tentadas a restaurar as identidades passadas. Este constitui o elemento
regressivo, anacrônico, da estória da cultura nacional. Mas, frequentemente,
esse mesmo retorno ao passado oculta uma luta para mobilizar as
"pessoas" para que purifiquem suas fileiras, para que expulsem os
"outros" que ameaçam sua identidade e para que se preparem para uma
nova marcha para a frente. Esta vertente está bastante visível no projeto de
governo de extrema-direita que desde o início de 2019 governa os destinos da
nação brasileira.
Ao refletirmos
sobre as nações, pode-se constatar que a maioria delas consiste de culturas
separadas que só foram unificadas por um longo processo de conquista violenta,
isto é, pela supressão forçada da diferença cultural. Moçambique, por exemplo,
tem mais de duas dezenas de culturas étnicas, línguas e religiões. Durante o
período colonial, que só terminou em 1975, a tática do colonialismo, aliás, de
todos os colonialismos, era a de dividir para reinar. Assim, um moçambicano do
sul não conhecia a cultura e a língua de um moçambicano do norte, o que
instaurava uma relação de incomunicabilidade. Depois da independência era
necessário construir a nação e todas as formas que o poder político considerava
como forças de divisionismo eram combatidas. Afirmava-se não existirem as
etnias changanas, macondes ou rongas,
mas sim que todos eram moçambicanos. As várias línguas étnicas eram silenciadas
e se valorizava apenas a língua portuguesa, a língua oficial do novo país.
Por outro lado,
importa ter em consideração que as nações são sempre compostas de diferentes
classes sociais e diferentes grupos étnicos e de gênero. E não se deve ignorar
que as nações ocidentais modernas foram também os centros de impérios ou de
esferas neoimperiais de influência, exercendo uma hegemonia cultural sobre as
culturas dos colonizados.
Assim, em vez de
pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-las como
constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como unidade
ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e diferenças
internas, sendo "unificadas" apenas através do exercício de
diferentes formas de poder cultural.
Uma forma de
unificá-las tem sido a de representá-las como a expressão da cultura subjacente
de "um único povo". A etnia é o termo que utilizamos para nos
referirmos às características culturais — língua, religião, costume, tradições,
sentimento de "lugar" — que são partilhadas por um povo. É tentador,
portanto, tentar usar a etnia dessa forma "fundacional". Mas essa
crença acaba, no mundo moderno, por ser um mito. A Europa Ocidental, por exemplo,
não tem qualquer nação que seja composta de apenas um único povo, uma única
cultura ou etnia. As nações modernas são, todas, híbridos culturais.
É ainda mais
difícil unificar a identidade nacional em torno da raça. Em primeiro lugar,
porque — contrariamente à crença generalizada — a raça não é uma categoria
biológica ou genética que tenha qualquer validade científica. Há diferentes
tipos e variedades, mas eles estão tão largamente dispersos no interior do que
chamamos de "raças" quanto entre uma "raça" e outra. A
diferença genética — o último refúgio das ideologias racistas — não pode ser
usada para distinguir um povo do outro. A raça é uma categoria discursiva e não
uma categoria biológica. Isto é, ela é a categoria organizadora daquelas formas
de falar, daqueles sistemas de representação e práticas sociais (discursos) que
utilizam um conjunto frouxo, frequentemente pouco específico, de diferenças em
termos de características físicas — cor da pele, textura do cabelo,
características físicas e corporais, etc. — como marcas simbólicas, a fim de
diferenciar socialmente um grupo de outro.
Alguns teóricos
argumentam que o efeito geral de processos globais tem sido o de enfraquecer ou
solapar formas nacionais de identidade cultural. Eles argumentam que existem
evidências de um afrouxamento de fortes identificações com a cultura nacional,
e um reforço de outros laços e lealdades culturais, "acima" e
"abaixo" do nível do estado-nação. As identidades nacionais
permanecem fortes, especialmente com respeito a coisas como direitos legais e
de cidadania, mas as identidades locais, regionais e comunitárias têm-se
tornado mais importantes. Colocadas acima do nível da cultura nacional, as
identificações "globais" começam a deslocar e, algumas vezes, a
apagar, as identidades nacionais. O fenômeno das novas tecnologias e as redes
sociais revela como em Moçambique a inserção na comunidade global é visível não
apenas nos grandes centros urbanos, mas também nos meio rurais (vestuário,
hábitos alimentares, música...).
O impacto das migrações no atual processo de
globalização e seus reflexos identitários: tradição e tradução
Uma das questões
que tensiona o campo dos direitos humanos é justamente a restrição
contemporânea do direito ao universalismo, a pertencer ao mundo, a viajar por
ele e deixar a sua marca como humano.
A associação
entre os que chegam de fora e a iminência de perigo não é nova: a ideia do
estrangeiro como boca a mais e roubador de empregos, de cujas manias e doenças
ameaçam diretamente a integridade do corpo nacional está, com diferentes
modulações e matizes, presente em toda a história.
No entanto, na
contemporaneidade, esse comportamento apresenta algumas especificidades: o
possível e falado inimigo é posto como um perigo difuso, sem rosto, sem nome e
sem lugar, podendo ser uma religião, uma ideia, uma civilização.
Estes inimigos,
que surgem geralmente sob caricaturas, clichês e
estereótipos, são representados como não semelhantes com os quais nenhum acordo
é possível ou desejável, o que é traço de um tempo de indisposição para a
partilha. A proposta da igualdade universal foi gradual e violentamente
substituída por um “mundo sem”: sem muçulmanos, negros, terroristas e
estrangeiros, que devem ser deportados, torturados “pessoalmente ou por
procuração”. O discurso é o da suspensão ou restrição das constituições, da
lei, dos direitos, das liberdades públicas, das nacionalidades, enfim, de todas
as proteções e garantias até hoje consideradas como adquiridas. Tal processo
seria uma espécie de saída da democracia que “suspende as normas em nome de
proteger as próprias normas”, que, portanto, não seriam para todos.
À incessante
busca por um inimigo soma-se a mobilização contemporânea do racismo, um dado
fundamental de nosso tempo, central na vida das populações em movimento,
passando pelas histórias de negação de imigrantes, de nacionais que continuam
sendo vistos e chamados de imigrantes, de fronteiras que devem ser restauradas,
de intrusos, de inimigos, de segurança nacional e de tradições, infinitas
histórias que se reciclam. Existe uma relação direta entre o recrudescimento do
racismo e a maneira como as populações estrangeiras não brancas são
representadas. Essas populações correm constantemente o risco de serem
atingidas por alguém, por uma instituição, por uma voz, por uma autoridade
pública ou privada que lhes pede para justificar quem são, por que razão estão
ali, de onde vêm, para onde vão, por que não voltam para casa.
A globalização
retém alguns aspectos da dominação global ocidental, mas as identidades
culturais estão, em toda parte, sendo relativizadas pelo impacto da compressão
espaço-tempo.
Talvez o exemplo
mais impressionante deste impacto seja o fenômeno da migração. Após a Segunda
Guerra Mundial, as potências europeias descolonizadoras pensaram que podiam
simplesmente cair fora de suas esferas coloniais de influência, deixando as
consequências do imperialismo atrás delas. Mas a interdependência global agora
atua em ambos os sentidos. O movimento para fora (de mercadorias, de imagens,
de estilos ocidentais e de identidades consumistas) tem uma correspondência num
enorme movimento de pessoas das periferias para o centro, num dos períodos mais
longos e sustentados de migração "não-planejada" da história recente.
impulsionadas pela pobreza, pela seca, pela fome, pelo subdesenvolvimento
econômico e por colheitas fracassadas, pela guerra civil e pelos distúrbios
políticos, pelo conflito regional e pelas mudanças arbitrárias de regimes
políticos, pela dívida externa acumulada de seus governos para com os bancos
ocidentais. As pessoas mais pobres do globo, em grande número, acabam por
acreditar na "mensagem" do consumismo global e se mudam para os
locais de onde vêm os "bens" e onde as chances de sobrevivência são
maiores. Na era das comunicações globais, o Ocidente está situado apenas à
distância de uma passagem aérea.
A globalização
tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e
"fechadas" de uma cultura nacional. Ela tem um efeito pluralizante
sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas
posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais
políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou
trans-históricas. Entretanto, seu efeito geral permanece contraditório. Algumas
identidades gravitam ao redor da "Tradição", tentando recuperar sua
pureza anterior e recobrir as unidades e certezas que são sentidas como tendo
sido perdidas. Outras aceitam que as identidades estão sujeitas ao plano da
história, da política, da representação e da diferença e, assim, é improvável
que elas sejam outra vez unitárias ou "puras"; e essas,
consequentemente, gravitam ao redor da "Tradução".
Importa
salientar que o conceito de Tradução descreve aquelas formações de identidade
que atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que
foram dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas
pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas
sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as
novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem
perderem completamente suas identidades. Elas carregam os traços das culturas,
das tradições, das linguagens e das histórias particulares pelas quais foram
marcadas. A diferença é que elas não são e nunca serão unificadas no
velho sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o produto de várias histórias
e culturas interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias
"casas" (e não a uma "casa" particular). As pessoas
pertencentes a essas culturas híbridas têm sitio obrigadas a
renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de pureza cultural
"perdida" ou de absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente
traduzidas. A palavra "tradução", observa Salman Rushdie, "vem,
etimologicamente, do latim, significando "transferir",
"transportar entre fronteiras". Escritores migrantes, como ele, que
pertencem a dois mundos ao mesmo tempo, "tendo sido transportados através
do mundo..., são homens traduzidos" (Rushdie, 1991). Eles são o produto
das novas diásporas criadas pelas migrações pós-coloniais.
Eles devem aprender a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas
linguagens culturais, a traduzir e a negociar entre elas As culturas híbridas
constituem um dos diversos tipos de identidade distintivamente novos produzidos
na era da modernidade tardia.
Naquilo que diz
respeito às identidades, essa oscilação entre Tradição e Tradução está se
tornando mais evidente num quadro global. Em toda parte, estão emergindo
identidades culturais que não são fixas, mas que estão suspensas, em transição,
entre diferentes posições; que retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de
diferentes tradições culturais; e que são o produto desses complicados
cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais comuns num mundo
globalizado. Pode ser tentador pensar na identidade, na era da globalização,
como estando destinada a acabar num lugar ou noutro: ou retornando às suas
"raízes" ou desaparecendo através da assimilação e da homogeneização.
Mas esse pode ser um falso dilema.
Tanto o
liberalismo quanto o marxismo, em suas diferentes formas, davam a entender que
o apego ao local e ao particular dariam gradualmente vez a valores e
identidades mais universalistas e cosmopolitas ou internacionais; que o
nacionalismo e a etnia eram formas arcaicas de apego —a espécie de coisa que
seria "dissolvida" pela força revolucionária da modernidade. De
acordo com essas "metanarrativas" da modernidade, os apegos
irracionais ao local e ao particular, à tradição e às raízes, aos mitos
nacionais e às "comunidades imaginadas", seriam gradualmente
substituídos por identidades mais racionais e universalistas. Entretanto, a
globalização não parece estar produzindo nem o triunfo do "global"
nem a persistência, em sua velha forma nacionalista, do "local". Os
deslocamentos ou os desvios da globalização mostram-se, afinal, mais variados e
mais contraditórios do que sugerem seus protagonistas ou seus oponentes.
Entretanto, isto também sugere que, embora alimentada, sob muitos aspectos,
pelo Ocidente, a globalização pode acabar sendo parte daquele lento e desigual,
mas continuado, descentramento do Ocidente.
Considerações finais
Falando de minha
condição de passante, de minha situação comum de vulnerabilidade no mundo,
parece-me pertinente tomar em consideração um pensamento de passagem, de
travessia e de circulação, relacionado ao trajeto, à circulação e à
transfiguração, de forma que habitar não é pertencer. Assim, se faz necessário
recusar as classificações que imobilizam, elogiando uma ética que considere a
tradução, os mal-entendidos e conflitos, recuperando o corpo, o rosto, a palavra.
Então uma nova
linguagem faz-se necessária, uma linguagem afiada, que tenha como fim
atormentar a realidade não apenas para soltar seus cadeados mas, sobretudo,
para salvar vidas. Essa nova linguagem passa pelo corpo, o rosto e a voz:
Restaurado à vida e, assim, diferente do corpo rebaixado da vida
colonizada, este novo corpo será convidado a pertencer a uma nova comunidade.
Desenvolvendo-se de acordo com o seu próprio plano, caminha agora com outros
órgãos, podendo assim recriar o mundo (Mbembe, 2017, p. 250).
Inspirado pela
fala de Mbembe, diria que habitar o mundo é partir de certo lugar, um lugar
matriz (uma matriz de lugar) que aprendemos a desprender para articulá-lo a
outros lugares, aprendendo a se dessituar para habitar um espaço mais vasto.
Emergem aqui as “identidades de fronteira”, ancoradas num espaço de acolhimento
permanente, e não de ruptura. É a fronteira definida como o lugar onde os
mundos inevitavelmente se tocam; o lugar da oscilação constante: de um espaço
ao outro, de uma sensibilidade à outra, de uma visão de mundo à outra. É onde
as línguas se misturam – não necessariamente de forma florescente, mas
impregnando-se naturalmente umas nas outras, para produzir, numa página em
branco, a representação de um universo composto, híbrido. A fronteira evoca a
relação e faz nascer um novo significado.
Apesar de
poderem indicar violência, ódio e desprezo, as fronteiras também anunciam que
os povos se encontraram e que
...as plantas não se reduzem às suas raízes e estas podem ser
replantadas e florescer num novo solo. Uma planta também pode cruzar as suas
raízes com as de outra e engendrar um novo ser vivo. O mundo ao qual
pertencemos é, em primeiro lugar, aquele que trazemos em nós (Miano, 2012, p.
25).
Ao refletirmos
sobre o caso das mobilidades, se faz necessário recuperar também a bem-vinda
luta por uma narrativa da hospitalidade a ser partilhada em um mundo comum. Uma
narrativa que frustre a ideologia securitária dominante, que ignora todas as
práticas de hospitalidade que constroem outra compreensão do nosso mundo.
Segundo o filósofo Guillaume Le Blanc (2018), a prática da hospitalidade tem
como desafio participar na disputa de poder e ultrapassar o discurso da utopia.
Assim, Le Blanc propõe restituir a inteligência (eficiência) da hospitalidade na
nossa sociedade, tornando-a uma palavra de ordem política.
Tomás Antônio
Gonzaga, o poeta brasileiro que atrás referimos, enquanto esteve deportado em
Moçambique escreveu um poema “Os africanos peitos caridosos” que
incorpora, simultaneamente e de forma emblemática, a narrativa da hospitalidade
e a da utopia:
A
Moçambique aqui vim deportado.
Descoberta
a cabeça ao sol ardente;
Trouxe
por irrisão duro castigo
Ante a
africana, pia boa gente.
Graças,
Alcino amigo,
Graças à
nossa estrela!
Não
esmolei, aqui não se mendiga;
Os
africanos peitos caridosos
Antes que
a mão infeliz lhe estenda,
A
socorrê-lo correm pressurosos.
Graças,
Alcino amigo,
Graças à
nossa estrela!
Nesta busca de
diálogo com o outro, consta-se como são longínquos os laços entre brasileiros e
moçambicanos. Como Gonzaga, quase dois séculos depois, moçambicanos e
brasileiros, continuam tendo como bússola a utopia. Ela dá sentido à estrela de
que falava o poeta. Mas mais do que estrela o que se configura é a valorização
do humano.
O itinerário da
hospitalidade passa não só por receber e acolher, mas também por partilhar. O
receber, dar alívio (e segurança) diz respeito a um imperativo humanitário,
moral e ético. Quando alguém tem necessidade, vamos prestar-lhe ajuda, qualquer
que seja a pessoa: este é o ponto de partida, e que deve estar sempre presente.
No entanto, a passagem do alívio ao acolhimento está completamente quebrada.
Sabemos como ajudar, não sabemos acolher. Porque acolher supõe um longo tempo,
um espaço durável, um dispositivo em que se leva tempo para sustentar uma
existência, para ver com ela aonde ela quer ir. Este desenvolvimento
sustentável da política humana não está na agenda. A política da hospitalidade
aparece então como uma resposta potente à política da inimizade.
Assim importa
pensar numa condição que ultrapasse as “essências” identitárias que nos afastam
e constroem muros entre nós. Nela não há fantasia, longe disso, já que, por si
só, opera a síntese de toda a inflexão, que se concentra em pensar a
interpenetração de culturas e imaginários. Deste modo, o Todo Mundo designa a
nova copresença de seres e coisas, o estado de globalidade em que reina a
relação. Seja na ética do passante, que visa evitar a necropolítica e a
política da inimizade, seja na relação global pode nos ajudar a pensar os
direitos humanos como plataforma de luta em que a dignidade humana não seja
relativizada.
Glissant (2008,
p. 53) considera precioso o direito à diferença, não para tolerá-la, mas para
fazê-la se relacionar ao Uno, compósito e também ambíguo. Nessa relação,
caberia ao outro, tentação máxima da pretensão ao universal, introduzir o
Diverso nas culturas modernas, em suas errâncias e na reivindicação estrutural
de uma igualdade sem reservas.
Mais abrangente
do que a miscigenação ou o sincretismo sintético, a “creolização do mundo”
aventada por Glissant (1996) é concebida como processo de formação das
sociedades crioulas. Imprevisíveis, tais sociedades nasceriam do
desenvolvimento de novas entidades culturais oriundas de variadas estradas, sem
a diluição de suas origens.
O grande desafio
da atualidade, mais do que em outros períodos, é o de enfrentar uma cultura em
movimento. Um caminho do meio consiste nesses procedimentos de deslocamento, de
nomadismo, em que a identidade possa nascer da tensão entre o apelo do
enraizamento e a tentação da errância, um caminho do meio para superar o
fundamento encerrado pela questão identitária: afirmar-se e excluir o outro.
Portanto, a afirmação das identidades passa por um processo de diferenciação,
onde se estabelece uma relação complementar entre as alteridades.
Estas
identidades, que como vimos, são todas identidades de fronteira, nascem da dor,
do roubo, do estupro, da auto-aversão. Elas tiveram de atravessar múltiplas
sombras para inventar uma ancoragem sobre as areias movediças e se impor não
contra, mas entre os outros. No fundo, elas habitam um espaço de cicatriz. A
cicatriz não é a ferida, é a nova “linha” de vida que se criou. Ela é o campo
dos possíveis, os mais insuspeitos. É o motivo da sombra e da luz, onde uma
sempre engendra a outra, onde não se coloca a hipótese de escolha, mas de
assumir: a sua parte da sombra e a sua parte da luz. Este movimento, esta dualidade,
representa o fundamento da natureza humana. O humano é, antes de tudo, esta
criatura de contraste que habita um lugar onde a sombra e a luz se tocam.
Referências
ANDERSON,
Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo: Companhia da Letras, 2008.
ESPÍNOLA,
Adriano. In: Jornal de Letras, Artes e Ideias. Lisboa, 1997.
GLISSANT,
Édouard. Pela opacidade. Criação & Crítica,
n. 1, pp. 355. 2008.
LE BLANC,
Guillaume. 2018. Il manque le courage politique pour secourir, accueillir et
appartenir. Disponível aqui Acesso
em: 1 dez. 2019.
MBEMBE,
Achille. Políticas da inimizade. Lisboa: Antígona. 2017.
MIANO,
Léonora. Habiter la frontière. Paris: L’Arche. 2012
RUSHDIE, Salman. Imaginary Hornelands. Londres: Cranta Books,
1991.